 “Pensando bem, foi uma maluquice mesmo”, reconhece o idealizador do evento, que entre 11 e 20 de janeiro de 1985 reuniu 1,38 milhão de pessoas na Cidade do Rock, construída em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, especialmente para abrigar o festival.
“Pensando bem, foi uma maluquice mesmo”, reconhece o idealizador do evento, que entre 11 e 20 de janeiro de 1985 reuniu 1,38 milhão de pessoas na Cidade do Rock, construída em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, especialmente para abrigar o festival.
O Rock in Rio foi realizado mais duas vezes no Brasil (em 1991 e 2001) e ganhou cinco edições internacionais - três em Lisboa (2004, 2006 e 2008) e duas em Madri (2006 e 2008). As capitais portuguesa e espanhola, aliás, vão receber o festival mais uma vez
em maio e junho deste ano.
Mas quando o Rock in Rio voltará para a terra natal? “Acho que pode acontecer no final de 2011. Tomei essa decisão há um mês. Estamos debatendo a ideia. Mas um sentimento me diz que vai acontecer”, reconhece o publicitário, que cita AC/DC, Shakira, Ivete Sangalo e Radiohead como alguns dos artistas que gostaria de escalar para o evento.
Morando há dois anos em Madri, Roberto Medina está de passagem pelo Brasil e recebeu a reportagem do G1 no escritório da Artplan, no Rio, onde relembrou histórias, dificuldades e curiosidades sobre o Rock in Rio.
Como surgiu a ideia de fazer um festival desse porte no Brasil?
Roberto Medina — Foi uma maluquice. Não existia nada parecido, nem aqui nem lá fora, que pudesse servir de referência para o que gostaria de fazer. Foi pura intuição. Claro que não planejei nada sozinho. Tive uma equipe de outros malucos que me acompanharam. E, no momento em que topamos o desafio, fui aprendendo. Foram oito meses de trabalho lidando com dificuldades. Era uma época de transição entre o governo militar e a democracia, um momento em que a juventude queria ir para rua. Eu, como empresário de comunicação, achava que seria bom tentar ajudar nesse sentido, mostrar a cara do Brasil. O festival nasceu a partir disso. Eu estava iludido, apaixonado pela ideia.
O Rock in Rio foi todo concebido em uma noite. Lembro de estar jantando em casa, inquieto. E, na manhã seguinte, a coisa toda já existia. E já se chamava Rock in Rio. Na manhã seguinte em que tive a idéia, cheguei à Artplan excitadíssimo com o projeto. Só que as pessoas não gostaram do nome. Diziam: “Vai colocar uma palavra americana no meio? Melhor que seja Rock no Rio”. E eu respondi: “Não estou perguntando a opinião de vocês. Estou apenas comunicando que vai se chamar assim” (risos). Só não fui demitido porque era o presidente da empresa (risos). Nem eu mesmo sei por que cismei com esse nome. Deviam ter pensando na época: “Pô, que cara excêntrico. Vai ficar um mês pensando nisso e depois vai esquecer”. Mas não esqueci. E outras pessoas foram se unindo a isso.
Não sabia exatamente onde seria realizado, mas o lugar que queria estava claro na minha cabeça. Quando comecei a ver os terrenos, escolhi o local mais desaconselhável para erguer a Cidade do Rock. Era um terreno muito fundo, teríamos que aplaná-lo. E foi o que aconteceu: 55 mil caminhões de terra foram utilizados para colocar o local em condições. Nunca imaginei que o festival fosse receber 1,38 milhão de pessoas, que iria se transformar em um movimento nacional. Só tinha certeza que ia ser muito importante para a cidade do Rio de Janeiro.
Como foram os dias que antecederam a abertura do festival em 1985?
Medina — Foram de tensão e adrenalina. Vivi coisas muito interessantes. Mais ou menos um mês antes do início do festival, um rapazinho que vendia balas num sinal de trânsito da Lagoa Rodrigo de Freitas desejava “Feliz Rock in Rio!” para as pessoas que passavam por ali. Era época de Natal. Fiquei muito impressionado com aquilo. No primeiro dia de shows, fui acompanhado da minha ex-mulher à área VIP do festival, que era um lugar mais alto, destacado. Quando me dei conta, vi o pessoal do heavy metal fazendo aquele chifrinho característico com as mãos na minha direção. E como conheço muito pouco de rock pesado, perguntei para a minha assessora: “Eles estão me chamando de corno?” Aí ela me explicou aquela simbologia. E fiz o sinal de volta para eles (risos).
Também no primeiro dia, as pessoas contratadas para vender ingressos abandonaram as bilheterias e correram para ver os shows. Quem acabou tendo que desempenhar essa função foram alguns dos meus amigos, meu motorista... Com os funcionários de uma rede de fast food, contratada para o evento, aconteceu a mesma coisa. Foi o caos completo. Mas conseguimos administrar aquilo, e foi muito emocionante.
Quais os principais acertos e deslizes na realização das três edições do festival?
Medina — Imaginar que você possa acertar com tantos artistas é loucura. Certamente a gente deve ter cometido erros de escalação. E um desses erros mais evidentes foi colocar o Erasmo Carlos no dia do heavy metal, em 1985. Ele ainda teve a infelicidade de começar o show com músicas pouco conhecidas. Foi realmente complicado. Outra coisa que me incomodou no primeiro Rock in Rio foi o som. O técnico que trabalhava no controle dava mais potência ao áudio das bandas internacionais do que das nacionais. Brigamos muito por causa disso. Porque as bandas brasileiras não tinham infraestrutura técnica para mexer naquele tipo de equipamento. Então, tinha que ser os estrangeiros mesmo. Essa era uma luta permanente.
Em 1991, uma coisa que pessoalmente não gostei foi de ter realizado o evento no Maracanã. Tínhamos um elenco de primeiríssima, mas o estádio não é o lugar ideal para proporcionar este tipo experiência para o público. Tem que ser um lugar harmônico, com natureza, onde você possa se espalhar e visitar outros ambientes. Por mais que você tente arrumar aquele estádio, não vai funcionar.
Já o Rock in Rio de 2001 superou minhas expectativas. A ideia das tendas e das outras atividades para entreter o público foi realizada de acordo com o conceito de diversidade que desenvolvemos, mas ficou melhor do que imaginei.
De que forma o tipo de organização do Rock in Rio influenciou outros festivais, no Brasil e no mundo?
Medina — Hoje, a equipe de som que faz o festival na Espanha e em Portugal é toda brasileira. Enquanto que foi uma dificuldade lidar com os técnicos americanos no primeiro Rock in Rio, hoje temos uma indústria nacional de som e iluminação formada. Aliás, já faz algum tempo que o Brasil é maioridade absoluta em estrutura técnica.
O Rock in Rio é, acima de tudo, um grande projeto de comunicação. A gente se preocupa com os detalhes. Eu, por exemplo, proíbo as empresas terceirizadas de praticar um preço acima da realidade do mercado. Me preocupo com o trânsito. Isso não é normal nos festivais internacionais, que simplesmente montam um palco, colocam uma banda para tocar e vendem ingressos. Lá fora, o respeito ao consumidor é zero. O que eles vendem direito é a banda. É isso o que existe no mundo.
Acho que isso acontece porque a cabeça das pessoas do ramo é de contratante de artistas, vendedores de ingressos. Não são publicitários. Eu faço isso também, mas sou de comunicação. Sei dos gastos, retornos, benefícios e alternativas. É uma visão que os caras que estão nesse meio não têm.
Ivete Sangalo em Madri. O que houve com o “rock” e com o “Rio”?
Medina — Tivemos a sorte de desenvolver uma marca que ultrapassou um festival realizado há 25 anos e que virou produto de exportação. Estamos acostumados a ser importadores. Acho que essa é a primeira vez que o Brasil exporta uma marca. E isso é ótimo. Ainda acho que a marca vai chegar aos Estados Unidos, à China... Pode até não ser através de mim, mas seria uma grande burrice esta trajetória não ganhar o mundo.
Quanto à escalação dos artistas, há uma visão distorcida do Rock in Rio. Já na primeira edição tivemos uma grande variedade de gêneros: Elba Ramalho, George Benson, Al Jarreau, Ivan Lins, Ney Matogrosso, Gilberto Gil. Além do mais, em 1985, não tínhamos tantas bandas de rock assim. Então, precisávamos preencher a programação com música brasileira. E ai entrou a música popular brasileira. O rock era apenas uma bandeira de comportamento. Um evento deste tamanho tem que ter a participação de uma enorme quantidade de pessoas. Para que isso aconteça, precisamos ser ecléticos. Senão, a conta não fecha. O Rock in Rio nunca foi um evento só de rock. E acho que as pessoas já entenderam isso.
Vejo o futuro do Rock in Rio também com uma tenda de jazz. Algo pequeno, com capacidade para mil pessoas. Os espanhóis não curtem muito. Em Portugal, menos ainda. Mas, aqui no Brasil, existe esse universo. Dentro desse contexto, digo mais: se pudesse fazer um dia só para crianças, eu faria. Minha principal atração seria Hannah Montana. E ela não iria para as tendas não, e sim para o palco principal.
O que você acha da política de preços de ingressos praticada hoje no Brasil?
Medina — Confesso que não sei como está se praticando o preço de ingressos aqui no Brasil. Tenho algumas informações, mas a sensação que eu tenho é que o valor está um pouco alto. O preço era baixo demais em 2001. Não existia competitividade com o mercado externo. Agora, ficou alto demais. Por causa da meia-entrada, dobra-se o preço do ingresso para que o valor com desconto seja equivalente ao preço cheio. Isso é um absurdo. Acho a legislação errada. Claro que deve existir um privilégio, uma vantagem para os estudantes. Mas no Brasil isso acontece de forma estranha. Muita gente tem a carteira. E os preços acabam dobrados.
Quando teremos um novo Rock in Rio no Brasil?
Medina — Tinha pensado em voltar com o festival em 2014, ano em que a Copa do Mundo será realizada no Brasil, mas agora acho que pode acontecer no final de 2011. Tomei essa decisão há um mês. Agora que visitei a cidade, fiquei com mais vontade ainda. Porque eu amo o Rio de Janeiro. Tenho um sentimento, uma intuição de que vamos voltar a realizar o festival aqui.
Dentro disso, uma das coisas que conversei com as autoridades daqui, nesta minha vinda ao Brasil, é que elas pensem na possibilidade de criar uma infraestrutura, não exclusivamente para atender o Rock in Rio, mas onde seja permitido reunir 100, 120 mil pessoas com segurança e conforto. Passei essa bola para as autoridades públicas competentes. Afirmaram que isso será estudado. Se encontrarem uma fórmula viável, o Rock in Rio vai voltar.
G1 — O que estaria faltando para que a realização desse novo festival se concretizasse no próximo ano?
Medina — Exatamente isso: um espaço público. É preciso que o governo encontre um espaço, não só para o Rock in Rio, mas para outros eventos desse porte. Basicamente é isso. Porque essa não é tarefa para os empresários. Uma cidade com o equipamento urbano que tem o Rio de Janeiro deve ter obrigatoriamente um espaço para isso. Acho que não haveria grandes dificuldades de o município se mobilizar nessa direção. Já conversei com o prefeito Eduardo Paes e ele está pensando no assunto. Porque acho que ele também tem consciência disso. E no dia em que tivermos um local aberto, bonito e cheio de verde, vamos fazer frente a qualquer lugar do mundo. É difícil, mas acho que com a chegada das Olimpíadas, em 2016, isso certamente vai acontecer. Não sei exatamente quando e onde. Hoje é um problema para o Brasil abrigar grandes eventos. Tem que existir uma solução adequada para isso.
Que atrações você sonha em trazer para esse próximo Rock in Rio?
Medina — Não pensei nisso ainda, pois essa ideia ainda é muito nova. O primeiro passo é discutir um pouco com as autoridades, o que eu já fiz. Se isso criar corpo, uma coisa que eu gostaria de ter no conteúdo do festival é a diversidade. Ter uma tenda eletrônica, uma roda gigante, uma área dedicada a atividades mais radicais, uma tenda de jazz... Se puder, quero ser mais abrangente ainda. Mas, se tivesse que montar um elenco hoje, faria de novo em cima dessa ideia de dias temáticos. Para o dia infantil, Hannah Montana e Tokio Hotel. Para o dia de heavy metal, AC/DC. Para o dia pop, Shakira, Rihanna, Ivete Sangalo. Quem sabe Lady Gaga e Beyoncé. Talvez fizesse um dia com o Red Hot Chili Peppers e o Radiohead. E outro mais clássico, não sei se com o Neil Young outra vez. Bem, quatro dias já estariam praticamente resolvidos (risos). Entre as bandas brasileiras acho que o Capital Inicial não poderia faltar.
Gostaria também de fazer uma grande festa eletrônica, uma espécie de rave com todos os DJs mais importantes do mundo, sem exceção. E isso é facílimo de conseguir. Seria um dia não convencional. Outra coisa muito legal seria juntar um artista de cada banda numa grande jam session. Um músico dos Paralamas, outro do Barão Vermelho, e assim por diante.
Fazendo uma retrospectiva das edições brasileiras, quais momentos você considera mais marcantes?
Medina — Quando abrimos os portões no primeiro dia do festival, em 1985. Lembro que as primeiras pessoas que entravam na Cidade do Rock, se atiravam no chão e beijavam a grama. Era uma cena inacreditável. Foi o primeiro grande momento. Depois, o show do James Taylor, na mesma edição. Tinha uma lua linda no céu, ele estava emocionadíssimo. Aquilo me tocou muito. E o primeiro dia do Rock in Rio de 2001, em que tivemos três minutos de silêncio simbolizando o desejo de paz. Diversas emissoras de rádio e TV em todo o país suspenderam a programação durante o período de silêncio. Tínhamos uma orquestra sinfônica, Gilberto Gil e Milton Nascimento juntos no palco, além de aviões cruzando os céu. Inesquecível.
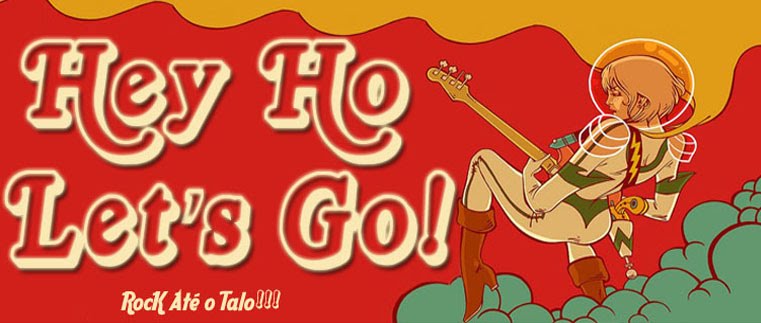






0 comentários:
Postar um comentário